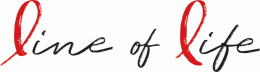Estigmas que roubam vidas
A escalada, a culpa, a doença e a responsabilidade coletiva.
Certas coisas parecem intransponíveis.
O álcool, como fator de perda de vida, é uma delas. No Brasil, para a população abaixo de 50 anos o álcool é responsável por anos de vida saudáveis perdidos em uma escala maior que outras doenças como diabetes ou infartos cardíacos. É uma doença que rouba anos inteiros, de maneira lenta e silenciosa ou, por vezes, de modo súbito. Além da saúde, rouba a dignidade social de quem adoece. O adoecer pelo álcool resulta em uma série de estigmas, mas, além de enfrentar a própria doença, a pessoa precisa também sobreviver ao julgamento coletivo, muitas vezes mais cruel que a própria enfermidade.
Os estigmas estão enraizados.
Não começaram hoje e não desaparecerão amanhã. São nutridos por uma visão moralizante que confunde fraqueza com falha, recaída com pecado, dependência com escolha. Diante de qualquer outra doença crônica, como obesidade ou diabetes, compreendemos a complexidade e buscamos o apoio terapêutico; diante do álcool — curioso! — reduzimos tudo a um conselho curto e impaciente: “basta parar”.
Que simplicidade enganosa!
Essa busca por simplificação protege mais quem julga do que quem sofre.
Há uma narrativa social bem conhecida e implacável:
quem adoece por álcool é culpado;
quem melhora “só fez sua obrigação”;
quem falha.... confirma a profecia.
As imagens mostram um homem subindo a montanha. A história, entretanto, começa no fundo do leito de uma UTI.
A dependência é uma doença crônica, marcada por remissões, recaídas e por mudanças profundas no cérebro que modulam impulso, compulsão e vulnerabilidade. A responsabilidade individual existe, claro; mas a ela é inversamente proporcional à gravidade da doença. Quanto mais doente alguém está, menos controle possui — e mais precisa de rede, cuidado, estrutura, acolhimento.
Os pacientes com transtorno do abuso do álcool, quando evoluem para doença avançada, podem precisar de um transplante de fígado. Nessa situação, o transplante não é o tratamento final, mas sim um recurso terapêutico dentro do tratamento da doença de base, complexa e que exige acompanhamento contínuo. O fígado novo não cura o transtorno; fornece apenas a chance de o paciente recomeçar.
O problema surge quando regras criadas para “avaliar a elegibilidade” ao transplante passam a exigir uma série de condições prévias: rede familiar estruturada, suporte psicossocial, estabilidade emocional, comprovação de adesão, acesso ao transporte, consultas, medicações. Na teoria, tudo faz sentido; na prática, principalmente em situações urgentes, tornam-se um filtro social — uma barreira intransponível.
Exigências que, aparentemente bem-intencionadas, favorecem a quem já tem vantagem. Exigências que pretendem garantir segurança e bons resultados acabam selecionando apenas os usuários de uísque 12 anos, não os de cachaça do alambique.
O ser humano no fundo do poço não precisa de sermões ou barreiras; precisa de apoio.
A dependência do álcool rouba vidas, sim, mas a bebida está aí, legalizada, e não desaparecerá. A sociedade admite seu uso, mas quando ele se torna patológico, enclausura o indivíduo em estigmas. Esses acabam roubando algo maior: a possibilidade de reconstrução de uma vida.
Os estigmas impregnam o próprio paciente. Apoiar não significa ser condescendente ou ignorar a responsabilidade pela situação. Significa demonstrar empatia, compaixão, misericórdia. Significa instituir um plano terapêutico, apresentar caminhos possíveis para a recuperação e oferecer tratamentos sem uma ótica moralizante.
A vida real é muito mais do que uma caricatura moral.
No fundo do poço, esses pacientes buscam ajuda nas instituições de saúde e, nelas — que nada mais refletem a sociedade — encontram, amiúde, o estigma e o preconceito.
Quando apoiados, muitos conseguem sair da doença. Nem todos, obviamente, mas qual doença grave na medicina apresenta o 100% de cura?
Essa saída não ocorre por milagre, mas por cuidado. Não por força de vontade isolada, mas por vínculo. Esses pacientes precisam saber, sentir, que alguém está se importando com eles.
A prova disso não está nos discursos, mas nas vidas reais.
As fotos que ilustram este ensaio foram tiradas por um paciente que, mais de três anos após quase morrer, literalmente sobe montanhas. Retoma o trabalho. Reconstrói vínculos. Reencontra a própria biografia, a própria vida.
Essa virada pode ser desencadeada dentro das instituições de saúde, pois é ali que, em condições clínicas graves, as pessoas buscam ajuda. Profissionais de saúde, capelania e serviço social não devem tratar esses pacientes como condenados, e sim como pacientes.
Ser misericordioso não significa ser displicente ou ignorar o cuidado necessário na indicação do transplante. Pelo contrário: critérios clínicos são essenciais e salvam vidas, otimizam o precioso recurso de órgãos para transplante. A crítica não é à prudência médica, mas à forma como, muitas vezes, critérios sociais travestidos de rigor acabam excluindo justamente quem mais precisa. Avaliar suporte, adesão e risco faz parte da boa medicina; exigir perfeição estrutural de alguém no auge da vulnerabilidade não é cuidado - é punição.
Uma sociedade que, por medo, desconhecimento ou por conveniência, nega misericórdia aos que mais precisam dela acaba sendo o principal fator da intransponibilidade terapêutica — não a falta de recursos.