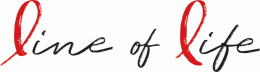Leia antes que se apague
"Out—out are the lights—out all!
And, over each quivering form,
The curtain, a funeral pall,
Comes down with the rush of a storm..."
Apagadas — apagadas as luzes — apagadas todas!
E, sobre cada forma trêmula,
A cortina, um sudário fúnebre,
Desce com a pressa de uma tempestade...
Edgar Allan Poe - The Conqueror Worm
A indiferença brutal da realidade — não importa quantas vezes a presencio — choca-me e corrói. Sinto remorso ao ver e ouvir tragédias pessoais, ao mesmo tempo em que experimento um alívio pernicioso por senti-las apenas por procuração, através de histórias de terceiros e seus coadjuvantes. A empatia, mesmo exercitada, nunca será completa. Colocar-se na pele do outro é um recurso nobre e desejável, mas fictício em sua totalidade.
São histórias particulares cuja essência é universal. É a pessoa que, por vocação, sempre alimentou os pobres e, por doença, já não consegue alimentar a si mesma. É o filho adotivo do casal infértil, ansiosamente esperado e criado com plena educação, conforto e carinho, que se desvia e comete parricídio. É a perda traumática, inominável do filho pelos pais, um vazio existencial infinito. É a doença que ceifa o paciente aos poucos, como se podasse galhos de uma árvore. O avesso da lógica, do justo e do correto. Aprendi que na natureza não há misericórdia ou justiça; estes são termos humanos, invenções artificiais, conceitos fabricados por nós e em nosso benefício, na tentativa de aprisionar o filhote de Tigre na jaula em nossa sala de estar. A Natureza é amoral e caótica, nietzschiana.
Somos massacrados pelo vácuo da existência. Impotentes, a tragédia da vida supera em muito a ficção.
A comoção diante da eventual — ou mesmo apenas imaginada — superação, quando há, ou então seu oposto, o impacto emocional imediato da tragédia, afeta-nos profundamente e ressoa nas profundezas de uma mente já angustiada pela possibilidade da perda inevitável, pelo medo irracional da morte.
A catarse — pelo horror ou pela arte, podemos escolher um dos caminhos — nos conecta àquilo que negamos, e tentamos transgredi-la purgando nossas emoções, do conforto de nossos assentos seguros e contemplativos.
Seguros?
Observemos o Tigre.
Podemos apenas vislumbrar, como em um devaneio onírico, a sensação de desesperança ao encarar o demônio da depressão — que suga e atrofia o paciente acorrentado em si mesmo. E quanto mais ele se debate, mais as correntes o sufocam, pesando os membros, restringindo os pensamentos. Enxerga tão somente sombra, e não a luz que a gera.
São histórias de vida em que despertamos para o abismo da existência, em que caminhamos, sem saber, à beira do precipício com os olhos vendados, e sentimos o frescor da ventania no rosto, crendo em seu falso sinal de vitalidade — acreditando que o momento ou o passo seguinte existe e sentiremos o chão sob nossos pés tateantes.
As tragédias assistidas no conforto do espetáculo da vida tiram-nos as vendas dos olhos e súbita e inextricavelmente somos apresentados à visão do precipício da finitude. Optamos, então, ou mirar o vazio absoluto por meio da linguagem e sentir a vertigem da destruição nos apossar, ou encarar o momento sublime da realidade desvelada e desnuda daquilo que não pode ser dito, representado ou completamente explicado.
Alimentemos o Tigre.
O sentimento do colapso, mesmo que alheio, assim como o amor, tem o poder de nos dar a visão, ou ao menos o vislumbre da verdadeira essência do fato: a primeira como nosso destino inevitável, e, em segundo plano, o nosso abismo interno da alma. Negar a dor nos aprisiona. Ao recusar a mortal perspectiva, privamos a nós mesmos do inevitável — cegamo-nos ao que não pode ser evitado.
A mais preciosa joia, o tempo, desperdiçamo-la, ao descrer e não saber a nossa última hora, seguimos convictos de que viveremos para sempre, esvaindo-se o limitado recurso. Ilusão da crença no futuro que na realidade não existe — uma miragem que nos torna mais sedentos por desejos egoístas, vaidades inúteis, arrependimentos sem fim. Desperdiçamos o tempo como um conta-gotas com inúteis e pequenas coisas sem perceber.
Chamo essas ocasiões em que testemunhamos a vida alheia desabar de “pontos de hiper-realidade existencial”, nos quais a atenção é tragada irresistivelmente, como uma faca no pescoço ou um redemoinho, para aquele momento específico — impedindo qualquer desvio de foco, tamanha a tragicidade e força existencial do acontecimento. Um divisor daquilo que realmente é importante e do que é ruído e desimportante em nossas vidas. Momento em que o ego cede espaço ao real, e a psique, sem filtros, entra ou em colapso, ou em iluminação. Podemos ao menos nos dar ao luxo da escolha? O Ser encontra o verdadeiro sentido na relação com o outro, por quem somos, então, responsáveis — e ele, por nós. Somos, afinal, responsáveis por quem cativamos.
“Nunca desembarcamos de nós mesmos. Nunca chegamos verdadeiramente ao outro, senão outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos”, dizia Fernando Pessoa. Não importa a experiência em si, mas a análise sensível e restrita, crítica e reflexiva — por mais dolorosa que seja — da experiência, mesmo que incompleta por ser empática, pois nunca sentiremos a dor da queimadura tal como o outro, até nos queimarmos. Somente há representação do sofrimento, nunca transposição ou transplante.
Libertemos o Tigre.
A medicina é repleta de pontos de hiper-realidade quando sentimos o impacto devastador da trama trágica ultrapassando o simbólico — quando a linguagem se ressente por não ser suficiente para nomear a dor, o horror ou o sofrimento. O real cru e absoluto, irrepresentável.
Resta apenas o silêncio.
Ou escolhemos libertá-lo, ou nos enjaulamos.
Em uma sociedade de distrações, esses são sublimes momentos de revelação. Sentimos como uma força que tentamos controlar com linguagem, cultura e alienação — e falhamos miseravelmente. O simples contato com o real da finitude e do colapso — mesmo que de outrem, mesmo que reflexivo — faz-nos fruir com mais intensidade a própria vivência inflexiva. O outro, como nos ensina E. Levinas, é uma possibilidade de abertura, de rompimento das correntes que nos prendem em nós mesmos. São janelas que permitem-nos enxergar a luz sem nos cegar, e antes que finalmente se apague.
Leia antes que você se apague.
Pois o Tigre nunca esteve preso.
Resta saber se o domaremos.
“Tiger, tiger, burning bright,
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?”
Tigre Tigre, queimando intensamente,
Nas florestas da noite;
Que mão ou olho imortal,
Poderia moldar tua simetria assustadora?
Excerto de The Tiger - William Blake
Ecos da realidade: Franz Marc e o homem que domou o seu Tigre.
Franz Marc, um dos principais nomes do expressionismo alemão, destacou-se por suas pinturas vibrantes e simbólicas, nas quais os animais ocupam papel central. Suas obras maduras são marcadas por cores intensas, formas simplificadas e uma linguagem visual que funde emoção e espiritualidade. Um exemplo emblemático é Tiger (1912), pintura em que o artista combina influências do cubismo e de Paul Cézanne. O tigre, representado por formas geométricas e fragmentadas, transmite não apenas imponência, mas uma essência interior quase mística.
Marc viveu e criou em um período de grande instabilidade — o início do século XX, marcado por rápidas transformações e a iminência de uma guerra global. “O clima em que viviam era quase apocalíptico”, explica Natalia Sidlina, curadora da mostra da Tate Modern sobre o grupo Der Blaue Reiter (“O Cavaleiro Azul”), fundado por Marc e Kandinsky em Munique.
Marc dedicou a maior parte de sua produção aos animais. “As pessoas, com sua falta de piedade — especialmente os homens —, nunca tocaram meus verdadeiros sentimentos”, escreveu à esposa em 1915. “Mas os animais, com seu senso virginal da vida, despertaram tudo que há de bom em mim.”
Sua desilusão com a humanidade se revelaria profética. Franz Marc foi convocado para o Exército Alemão durante a Primeira Guerra Mundial e morreu em combate em 1916, na Batalha de Verdun. Sua obra, no entanto, permanece como um grito colorido e sensível em meio às sombras da história.
(Retirado de artigo de Amy Crawford - April/May 2024 - Smithsonian magazine)