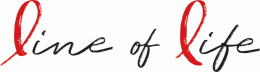A escuridão cedeu lentamente, como uma cortina em um teatro. Primeiro, um brilho opaco, quase um erro da própria luz. Depois, uma lâmina fina atravessou a consciência de Lemaître. Rasgou o silêncio onde sua mente estivera suspensa. O ar frio tocou seu peito, uma âncora súbita, como se seu corpo confirmasse que ainda existia. Algo, um cheiro, um chamado, um toque no pescoço, anunciava que não estava mais onde imaginava estar.
Imagens indistintas se aglutinaram e deram lugar à lembrança de ter presenciado outra época, outro lugar. Resquícios daqueles momentos antes das sombras. As formas retornaram à superfície da mente, carregadas de um tempo que não lhe cabia. E, no entanto, a visão perdurava. Um monte árido, o céu pesado, e — o mais importante—, aqueles olhos que não pertenciam a nenhuma lembrança deste mundo. O que permaneceu não era exatamente uma imagem; era o impacto, um toque... na alma.
Aquele olhar que o inundava de amor.
A presença que o impregnava de paz.
Amor tão direto que obrigava seu coração a hesitar antes de bater.
Como suportar isso, sem vacilar?
Ele viu, ou acreditou ver, o corpo consumido, coberto de sangue e rasgado pelos açoites, o peso exausto na respiração de um condenado, a madeira cravada nas carnes dos pés e das mãos. Não deveria ser o sacerdote o misericordioso? Não era o crucificado quem deveria suplicar por alívio? Lemaître quis desviar o rosto, mas não conseguiu. Queria fugir, mas estava estático.
Foi a compaixão que o tocou. Uma ternura silenciosa e imerecida, dirigida ao próprio Lemaître.
Lembrou que tentou erguer a mão e falar, mas ela não obedeceu e a voz não saiu. Ficaram ambas suspensas entre dois mundos, incapazes de tocar a cruz. Perguntas o atravessaram, precisas:
Por que eu sou o perdoado se o martírio é dele?
Por que o amor de um condenado agonizando se voltava para ele, e não o inverso?
O martírio, o ultraje era do outro e ainda assim era ele, Lemaître, quem recebia perdão. As palavras pesavam. Eu era o absolvido. Balançou a cabeça para tentar esquecer, mas as suas memórias também pesavam em seus ombros. Feriam todo o seu ser. Sentia-se totalmente nu, vulnerável como o crucificado. Ninguém deveria ser visto assim, revelado, trespassado.
Como suportar isso e ainda amar?
O olhar do torturado não o julgava. Isto o deixava confuso, muito confuso. Era paz demais, luz demais. Tremia porque em seu peito não suportava aquela expressão que o fitava. Queria fugir daquele amor.
Não mereço estes olhos, pensou.
Ninguém os merece.
O pensamento encontrou eco dentro dele, com a nitidez de uma confissão arrancada à força.
E mesmo assim, apesar de tudo o que cometi, eu os tenho sobre mim.
A lembrança do odor da lama aos seus pés veio primeiro, mas não vinha sozinho. Misturava-se ao fio escarlate que escorria do corpo mutilado. O sangue tinha um cheiro que o padre jamais esqueceria. As trincheiras em sua juventude na guerra jamais permitiriam. Ferro, terra e algo maior. Algo que recendia a sacrifício. Como se a própria terra testemunhasse algo que ultrapassava o sofrimento. Mas para quê? Não compreendia.
Algo sussurrou no vento em lembrança de um amigo. O som pareceu deslocar o ar ao redor, como se o mundo estivesse prestes a mudar de camada. O atendente da Taverna ao seu lado, abaixo da cruz, surgiu. Primeiro como sombra, depois como presença.
Então a luz mudou de textura. Tornou-se branca demais, brusca demais, como se mãos humanas tivessem arrancado o céu para revelar um teto mais baixo, mais habitual. O som do vento desfez-se em outro som: passos, vozes, madeira rangendo cadeiras sendo arrastadas. Os sons do martelo desaparecem; em seu lugar, o estalo frio de talheres e copos. Surgiu o peso incômodo de braços sendo segurados. Lemaître piscou, e a cruz se partiu em pedaços de realidade.
Estava deitado no chão da Taverna, o rosto úmido, a batina aberta, cercado por pessoas que respiravam rápido demais para parecerem anjos.
— Padre? — perguntou alguém, com uma voz que era metade preocupação, metade incredulidade — Lemaître, me escuta?
Três rostos pairavam sobre ele. Dois conhecidos: o garçom e o gerente. O terceiro era o cliente distinto que conversara no balcão da Taverna. O mundo real voltava como uma maré impaciente. O cheiro de sangue e lama ainda parecia estar ali, mas agora era só o gosto metálico de sua própria língua. O crucificado havia desaparecido. Ficara apenas o eco — e a estranha certeza de ter tocado algo impossível.
— Ele voltou. — disse o cliente com alívio profissional — Taquicardia paroxística supraventricular revertida. Baixo fluxo cerebral. Mas está estável.
Lemaitre piscou, tentando separar as duas realidades que ainda se sobrepunham como vidros mal encaixados. Cerrava as pálpebras com esforço como se esperasse por uma visão mais clara.
— Eu… eu estava em outro lugar. — murmurou, sentando-se com a ajuda de mãos firmes. — Vi e senti algo. Não sei descrever.
O garçom e o gerente trocaram olhares discretos. O cliente — agora claramente médico — apenas sorriu com serenidade científica.
— Não se preocupe com isso agora. Visões são comuns em síncopes. O cérebro faz o que pode para preencher o vazio.
Lemaître, porém, sabia.
O que ele vira não era um sonho.
Ricardo ajudou a sentar-se à cadeira, não antes que o médico fizesse suas observações e recomendações a Lemaître.
— Pela providência contávamos com ótimas mãos, Padre. Permita-me apresentá-lo ao nosso querido amigo e professor, Dr. João Manuel Cardoso Martins. — disse Ricardo, acenando em direção ao cavalheiro que havia socorrido Lemaître.
— Felizmente Ricardo aqui foi diligente e rápido o suficiente para evitar-lhe um queda e trauma craniano mais grave. — completou Dr. João Manuel.
Lemaître e os demais convidados, agora mais aliviados — mas também surpresos com o aparente milagre que o distinto médico havia operado. Mal chegou próximo do paciente desacordado, notou a tempestade rítmica, pousou suave e firmemente a mão sobre o pescoço e provocou a imediata recuperação, quase mágica, do ritmo cardíaco. Pelo menos foi o que haviam presenciado.
Todos lhe agradeceram, exaltando sua arte, ao que Dr João Manuel respondeu com discreto aceno.
— A arte começa onde termina o poder científico. E a ciência sem arte é um presente sem embalagem. De outro modo, ciência sem arte é o mesmo que educação sem cultura.
E dirigiu-se ao balcão acompanhado por Fábio, o gerente e confidente. De certa forma aquela figura trazia consigo uma sensação de segurança concreta. Nenhuma filosofia prevalecia durante uma urgência médica.
— Foram minhas palavras… fortes —pigarreou Nietzsche— que lhe causaram a apoplexia, Lemaître? — havia um remorso genuíno nas palavras do filósofo.
— Não, não, caro amigo. Não se preocupe. Posso parecer frágil aos seus olhos, mas sou bastante resiliente em matéria de argumentação. — o padre riu, divertindo-se com a situação. —Vamos continuar nossa conversa, sem desperdiçar momentos preciosos. Já estou bem. — e abotoou a batina, alisando-a como quem se prepara para um evento — Estou novo em folha, e suspeito que não tenha sido sorte ou providência a presença do Dr. João aqui, não é mesmo, Ricardo?
Com discreto sorriso, o garçom olhou de soslaio, levantando o olhar das anotações em seu livreto sem transparecer se concordava ou discordava da meia afirmação. A marca de Ricardo parecia ser mostrar apenas o suficiente, nunca a mais nem a menos.
Lemaître notou de relance que o atendente utilizava-se de uma encadernação em couro com um símbolo em alto relevo, parcialmente desgastado, de um touro alado.
Ao erguer finalmente o rosto para a mesa onde Nietzsche, Einstein, Galileu, Camus e Sagan o aguardavam em silêncio tenso, Lemaître sentiu que carregava consigo algo que nenhum deles — nem mesmo o filósofo que decretara a morte de Deus — estava preparado para ouvir.
Lemaître, até então imóvel, por um instante deixou de parecer padre ou cientista. Havia nele algo diferente — como alguém que observava o mundo por dentro. O olhar não se fixava em ninguém, parecia repousar em algo que só ele via.
Defendeu-se da expectativa com um sorriso leve.
— Rogo que continuemos nosso debate, e, Nietzsche, não me considere derrotado. — o sacerdote parecia surpreendentemente revigorado, a cor em sua tez voltara, assim como a força em suas palavras. — Para você, a religião é o carrasco do homem, aquela que o obriga a sentir-se um condenado moral — terminou de fechar o colarinho.
— Acredita que o cristianismo inventou culpa e propósito, tudo isso para enfraquecer o ser humano. Nega Deus para libertar o homem... devolver-lhe força, inocência — fez uma breve pausa.— É isso?
Nietzsche franziu o cenho, e reclinou-se na cadeira. Camus inclinou a cabeça, atento.
Lemaître prosseguiu, sem perder a suavidade.
— Veja… concordo que existe uma teologia que transforma a culpa em arma.
Ele não terminou a frase.
Por instantes, fitou o vazio, as palavras escaparam em sussuro.
— Mas não foi isso senti naqueles olhos…
Os demais se entreolharam.
O padre voltou a encará-los, balançando a cabeça.
— Uma distorção humana — não divina. “Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.”
Levou instintivamente os dedos ao seu crucifixo.
A taverna permaneceu silenciosa. Ninguém se mexeu. Apenas o crepitar do fogo e o estalar antigo da madeira quebravam o ar denso do debate. Outro Lemaître parecia estar ali, sentado ao lado deles.
O padre endireitou a coluna e encarou Nietzsche diretamente.
— É interessante, sabe? Você declara a morte de um deus — do seu deus, pois nunca afirmei o deus que você refuta. E constrói sua filosofia sobre esse cadáver.
Nietzsche estreitou os olhos ferinos, como quem mede a distância antes do salto.
Mas Lemaître continuou, implacável e doce ao mesmo tempo:
— A liberdade cristã não é a negação da vida, mas a libertação do medo. Do medo de que a existência seja absurda demais ou cruel demais. O sentido pode existir mesmo que não sejamos seus autores.
Virou-se então para Camus. Agora, este é que se reclinou.
— Vocês dizem que ninguém nasce culpado. Concordo totalmente. Cristo não começa pela culpa; começa pela graça. A culpa é obra humana. A graça é luz divina. Foi o homem — não Deus — quem fez da sombra uma doutrina.
Depois voltou-se para Sagan e Einstein, com admiração sincera. Encontraram-se dois sorrisos.
— Quanto ao cosmos, Carl, Albert… ninguém ama mais a elegância e a vastidão do universo do que eu. Minha fé jamais pretendeu substituir a ciência.
Lemaître reposicionou os óculos redondos.
— A minha hipótese do átomo primordial, que hoje chamam Big Bang, não nasceu da religião — nasceu do cálculo, da matemática… apesar da minha física horrenda — disse, piscando para Einstein.
Fez um gesto suave, como quem deposita algo precioso na mesa.
— A ausência de finalidade cósmica não implica a ausência de significado humano.
Sagan cruzou as mãos diante de si, desarmado.
Galileu abriu um sorriso vistoso ao seu lado.
— Vocês chamam isso de libertação. — disse Lemaître. — Eu vejo um homem reduzido à própria queda, sem perdão, sem resposta, sem companhia.
O silêncio era denso, palpável. Até o fogo pareceu arder com cautela.
Inspirou profundamente e arrematou.
— Vocês dizem que a culpa foi inventada. Eu digo que o perdão foi revelado.
Fez então uma pausa, olhando para Nietzsche como quem devolve a espada ao duelista.
— E quanto ao devir, ao vir-a-ser da inocência, da ausência de propósito… no fundo, seja padre ou ateu, cientista ou filósofo, todos concordamos numa coisa. Estamos sempre nos tornando.
Tomou um gole de água da sua taça, a boca arenosa.
— A diferença é que vocês acreditam que nos tornamos sozinhos. Eu acredito que nos tornamos acompanhados.
Ergueu as mãos à luz do fogo, iluminando metade de seu rosto.
— Eis, meus amigos, minha humilde resposta. Não nego a liberdade que vocês defendem. Só afirmo minha crença — e a escolha é de cada um. Apenas faço uma última pergunta: nós merecemos?
Havia dor nas palavras do sacerdote.
A taverna ficou quieta. Não por falta de som, mas porque todos precisavam recuperar o fôlego.
Todos… exceto Nietzsche.
O filósofo exibia uma expressão de contentamento feroz. Seu adversário intelectual estava no ponto exato onde ele desejava. Nietzsche sorriu. Não de vitória — de antecipação.